
Emmanuel D. Almada*
Dentre os diversos discursos construídos e disseminados sobre a pandemia, aquele que evoca a guerra contra o inimigo invisível se destaca. É que o discurso bélico sempre foi muito caro à modernidade. Desde a luta contra os bárbaros, as cruzadas, a subjugação e colonização dos povos ameríndios até a destruição dos quilombos e a infindável guerra às drogas, houve sempre um inimigo a ser derrotado, em nome da imposição de uma normalidade moderna, branca e eurocêntrica. O imaginário da modernidade que sustenta a missão civilizatória do ocidente é habitado por inimigos de um lado e outro das fronteiras do humano. Florestas, savanas, rios e animais foram, ao longo da história do ocidente, “a ferro e fogo”, reais inimigos a serem vencidos em batalhas sem fim. De forma similar, a descrição de insetos, fungos e microrganismos como pragas a serem combatidas compõe o discurso que sustenta a indústria dos agrotóxicos. Afinal, é dessa guerra bilionária que as grandes empresas produtoras de veneno se alimentam. A convocação para uma guerra humana contra o novo coronavírus é, em última análise, a perpetuação desse ímpeto de exercício de poder biopolítico do capital sobre todo o corpo vivo de Gaia.
Tal como as mudanças climáticas, o vírus tomou de assalto o chão sobre o qual se desenrola a arena geopolítica mundial, reestabelecendo os termos do “contrato natural” entre humanos e o planeta. E da mesma forma que aquela, a pandemia resulta das dissoluções das alianças entre animais, florestas e vírus geradas pela expansão do capital organizado sobre os territórios de vida mais que humanas. Seja nas florestas chinesas, na Amazônia ou no Cerrado, o avanço das fronteiras do agronegócio tem implicado em uma guerra multiespécies em que as comunidades não humanas, embora combalidas, também traçam, silenciosamente, suas novas táticas a cada batalha.
Para que se trave uma guerra é preciso que se cultive minimamente a ideia de existência de um inimigo comum. Como imagem especular deste inimigo constitui-se um “nós” que se torna, em certa medida, um todo homogêneo, uma mônada a serviço da guerra contra a natureza. Negros, indígenas, mulheres, crianças, todos, num passe de mágica, transforma-se parte de um exército com o dever divino de lutar pelo futuro humamo, ainda que na prática não possuam os mesmos direitos dos demais soldados. Omite-se o fato de que entre as causas da pandemia, estão as desigualdades abissais entre humanos. Sob o julgo do discurso da guerra, a massa de soldados humanos é instigada a odiar, ora o próprio vírus, ora seus supostos aliados, sejam eles morcegos, chineses, comunistas globalistas e petistas, claro. No léxico bélico, vacinas e medicamentos se tornam armas, trabalhadores da saúde são heróis numa guerra fantástica e espetacular contra um inimigo ardiloso e invisível, digna de um HQ da Marvel. O problema é que, ao aderir ao discurso da guerra, aceita-se também os seus mortos.
Há, no entanto, ao largo dessa guerra dos mundos, ao modo de H.G. Wells, uma outra história pandêmica sendo narrada. É a história do amor no tempo da Covid. Tal como o vírus, o amor também tem elevado grau de contágio e, felizmente, não há máscara ou álcool que o impeça de se espalhar. Falo do amor como revolução, como nos conclama a pensar o Pastor Henrique Vieira, do amor que fecunda o universo, como bem testemunham Frei Beto e o Monge Marcelo Barros. Mas o amor também é fenômeno biológico, como belamente demostrado por Humberto Maturana. Segundo o neurobiólogo chileno, “o amor é um fenômeno biológico que não requer justificação”. É o amor a emoção que fundamenta a socialização, uma vez que é ele que permite os encontros recorrentes entre os indivíduos. Para Maturana, o movimento contrário ao amor é a rejeição e a indiferença. Ao alargar o espectro do amor para os outros sistemas vivos, é possível compreender o amor como base de todas as alianças, não só entre humanos. É essa tendência de viver juntos, de atenção e aceitação da diferença que permitiu, ao longo da história ecológica da terra, o encontro entre espécies, inclusive entre parasitas e seus hospedeiros. Foi assim, num processo amoroso, como nos ensinou Lynn Margulis, que há bilhões de anos, na imensidão dos mares primevos, uma bactéria aeróbica penetrou em outra anaeróbica (como parasita ou como alimento, não se sabe), formando os primeiros eucariotos dos quais descendemos.
Seria possível, desta forma, assumindo-se o amor como princípio de organização e diversificação da vida no planeta, construir uma contra narrativa pandêmica. Se aceitarmos o vírus, bem como seu encontro, não há mais inimigos. Por consequência, não há guerra a travar. Isso não significa, absolutamente, uma passividade frente aos efeitos desse encontro entre espécies (sic.). Trata-se de pensar todo o aparato científico e técnico, não como um arsenal bélico, mas como artefatos desse encontro, mediadores para o cuidado e manutenção do curso das vidas humanas. É o jogo autopoiético que caracteriza o encontro entre sistemas vivos descrito também por Maturana e Varela, onde muda-se para continuar a ser (o mesmo).
Para regenerar o mundo é preciso cultivar o amor em meio à pandemia. É isso que está ocorrendo nas vilas e bairros e favelas do país. Como sempre fez, o povo se organiza, partilha, se encontra. Com parte dos humanos reclusos, as outras espécies e entes da natureza também refazem e multiplicam seus encontros e alianças, seus amores. O amor, enquanto encontro e aceitação, tem poder criador.
O governo da necropolítica que comanda o país está em constante guerra, se nutre do ódio. Seus inimigos são tantos que talvez considere o vírus como um grande aliado nas incessantes batalhas contra trabalhadores pobres, negros, mulheres, indígenas, LGBTs, comunidades do campo e da cidade. Frente a essa escalada de indiferença e rejeição de existências, é preciso, em nome do Bem Viver, cultivar o amor. Isso significa restabelecer alianças, promover encontros, mais do que físicos, de histórias e vidas. Assim precisará ser também em nosso mundo pós pandemia. A tarefa de cuidar de florestas, savanas, rios e mares, é, no fim das contas, promover encontros. O que se faz ao plantar uma árvore senão criar alianças entre raízes, fungos, solos e atmosfera?
Não nos cabe a construção de um novo normal, precisamos de um outro estado de coisas, que permita emergir os mundos rejeitados e subjugados pelo capital. E o contrário do capitalismo é o amor, em suas mais diversas manifestações individuais, comunitárias, políticas e na história das espécies. É o amor, uma vez que é encontro e aceitação, o elemento que tece e refaz “a teia da vida”.
*Kaipora – Laboratório de Estudos Bioculturais, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité, emmanuel.almada@uemgbr
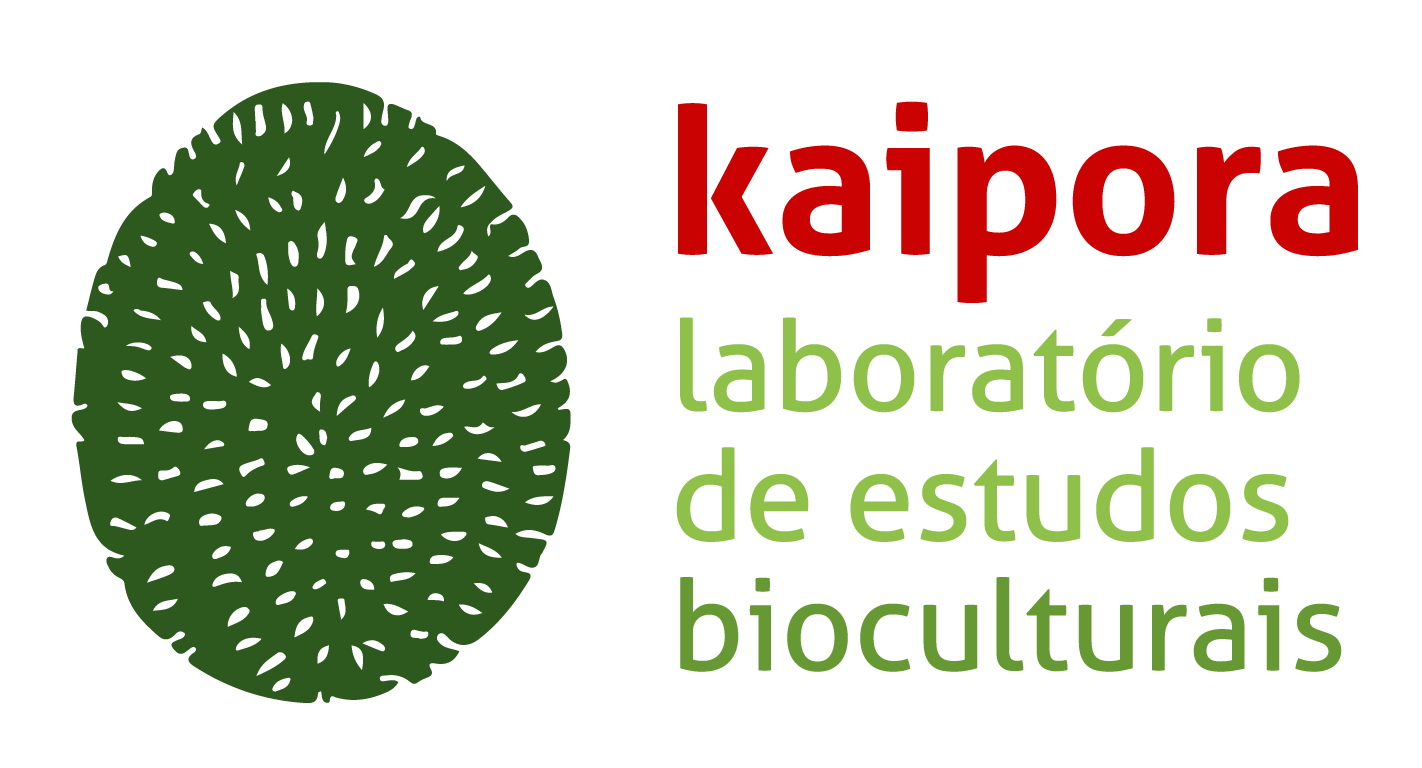

3 thoughts on “Não é uma questão de guerra… ou Sobre o amor nos tempos da Covid…”